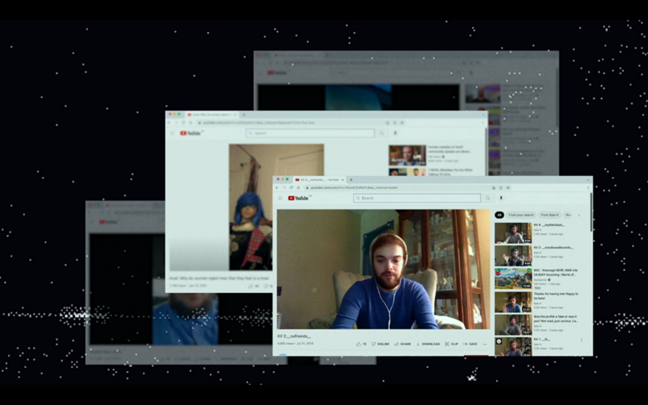Premissas e promessas que poderiam ter sido estabelecidas a priori da realização deste telefilme. Encomendado pela estação televisiva francesa TF1, Aujourd´hui, dis-moi (1980), um dos episódios da série Grand mères, apresenta uma compilação de três entrevistas a mulheres judias sobreviventes do Holocausto. Dirigidas pela própria, Chantal Anne Akerman (1950-2015), autora fundamental do cinema moderno do […]