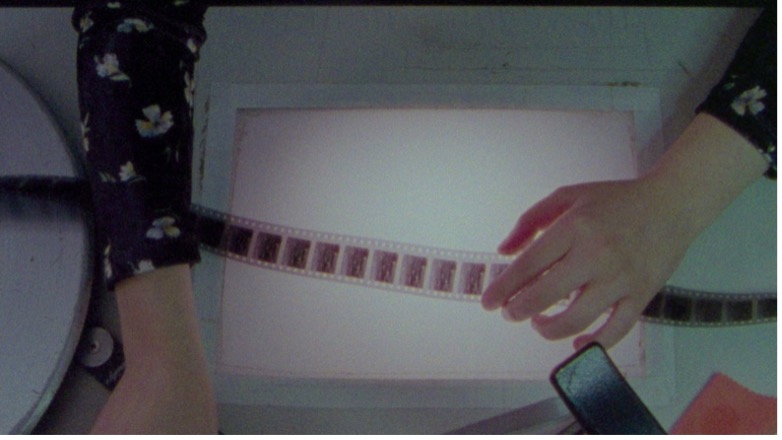Alexander Markov regressa ao IndieLisboa para apresentar Red Africa (hoje, dia 5, no Ideal, às 22h), um documento que parte do projecto anterior (Our Africa, Indie 2019), abordando a partir de um ângulo mais profundo a questão da propaganda soviética nos países africanos acabados de sair do colonialismo. Nesta co-produção entre a Rússia e Portugal (Kintop e […]