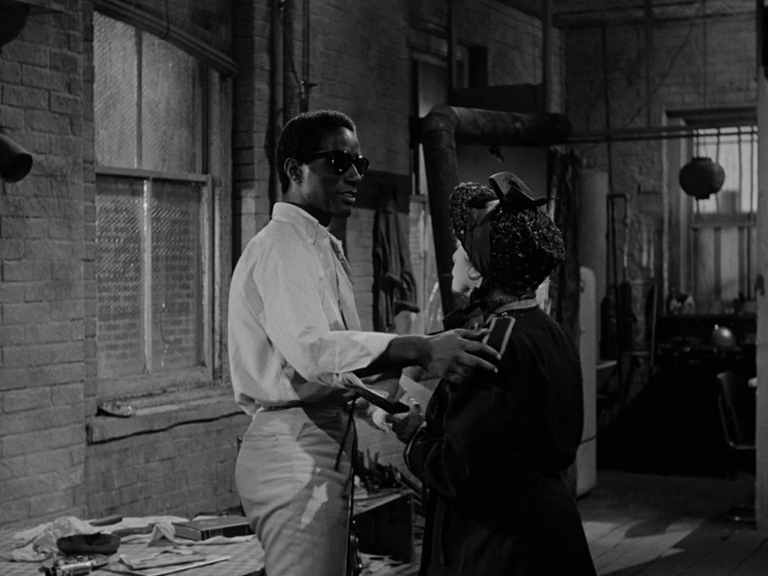Depois da sua viagem pelo Festival de Locarno, Baan, nova longa-metragem da portuguesa Leonor Teles, chega a Portugal para fechar a 21ª edição do Doclisboa. Não é segredo nenhum que Leonor Teles é uma realizadora acarinhada pelo público português que a segue desde o Urso de Ouro, em Berlim, para a sua curta-metragem Balada de […]