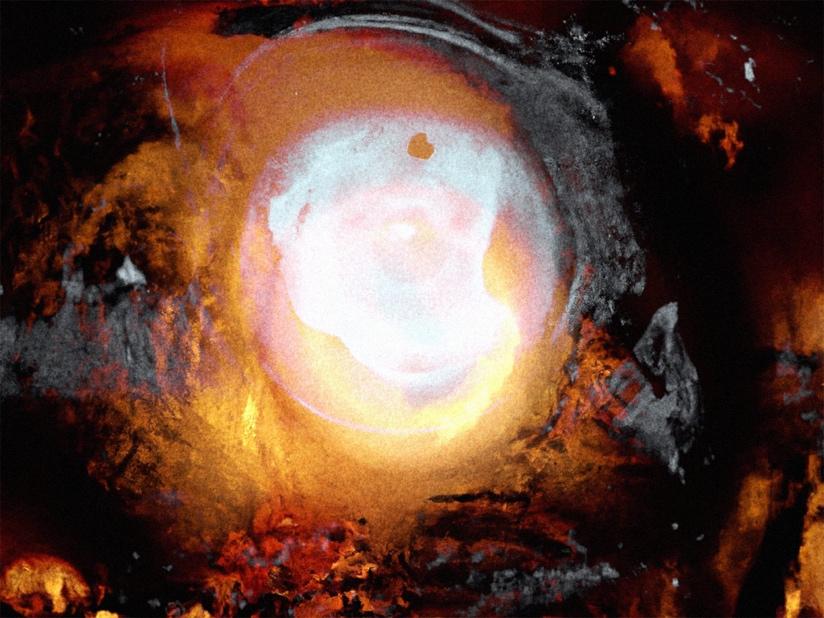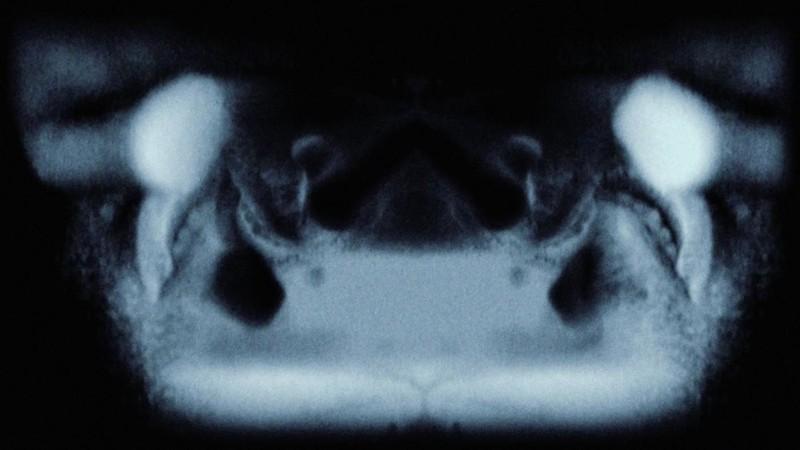Se o gesto de escrever sobre cinema constitui, já em si, uma ousadia, como adjectivar a tentativa de escrever sobre O Auge do Humano 3 (2023), do realizador argentino Eduardo Williams? Acabado de estrear em Portugal, a estranheza da sua proposta começa pelas técnicas que usa, nomeadamente, a escolha de filmar com uma câmara VR […]