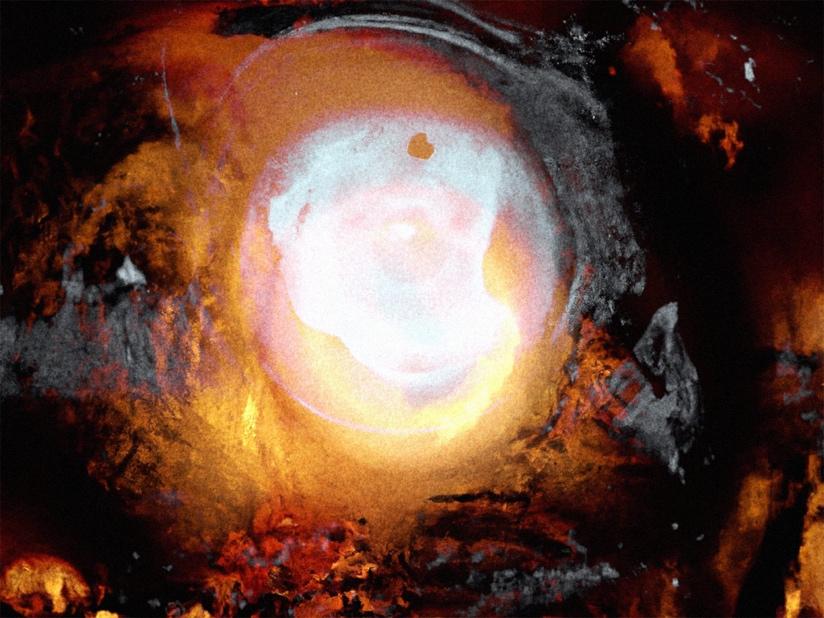Subsiste a tendência para, sem tardar, procurar legitimar os objectos artísticos com que nos defrontamos. Legitimação política, social, ética, moral, etc. É – não só, mas também -, a uma tal urgência de integração (e regulamentação) da arte, que a obra de Deborah Stratman diz respeito, criticando-a, justamente, pela resistência que apresenta a uma categorização […]