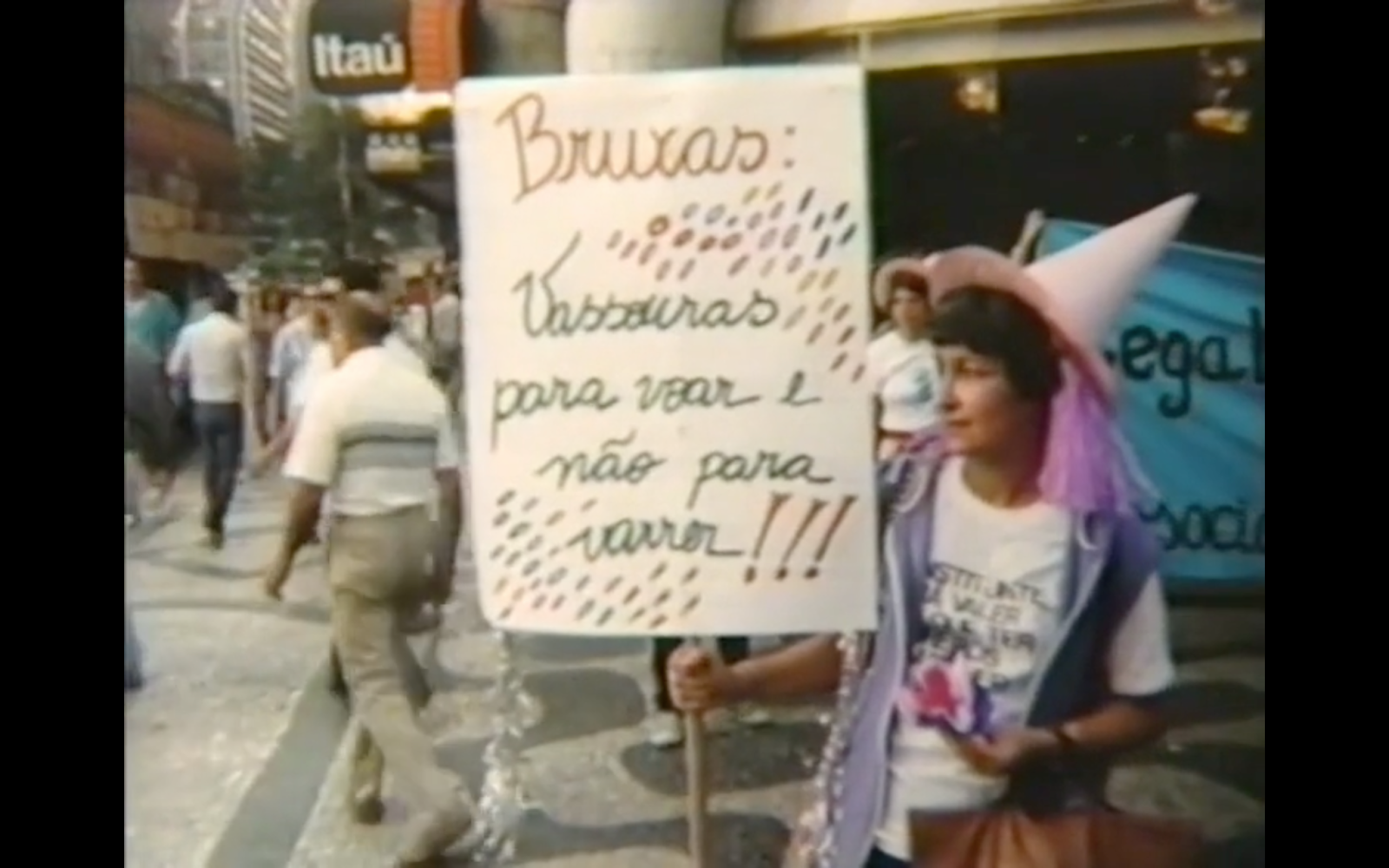“Dez granadas foram distribuídas por cinco guerrilheiros. Quantas granadas cada um recebe?”: na aldeia onde nasce a mãe do realizador Sana Na N’Hada, um dos grandes fundadores do cinema guineense, Filipa César e Sónia Vaz Borges recriam o quotidiano de uma Mangrove School (2022), escola de guerrilha em Guiné Bissau. Estreado mundialmente na mais recente […]