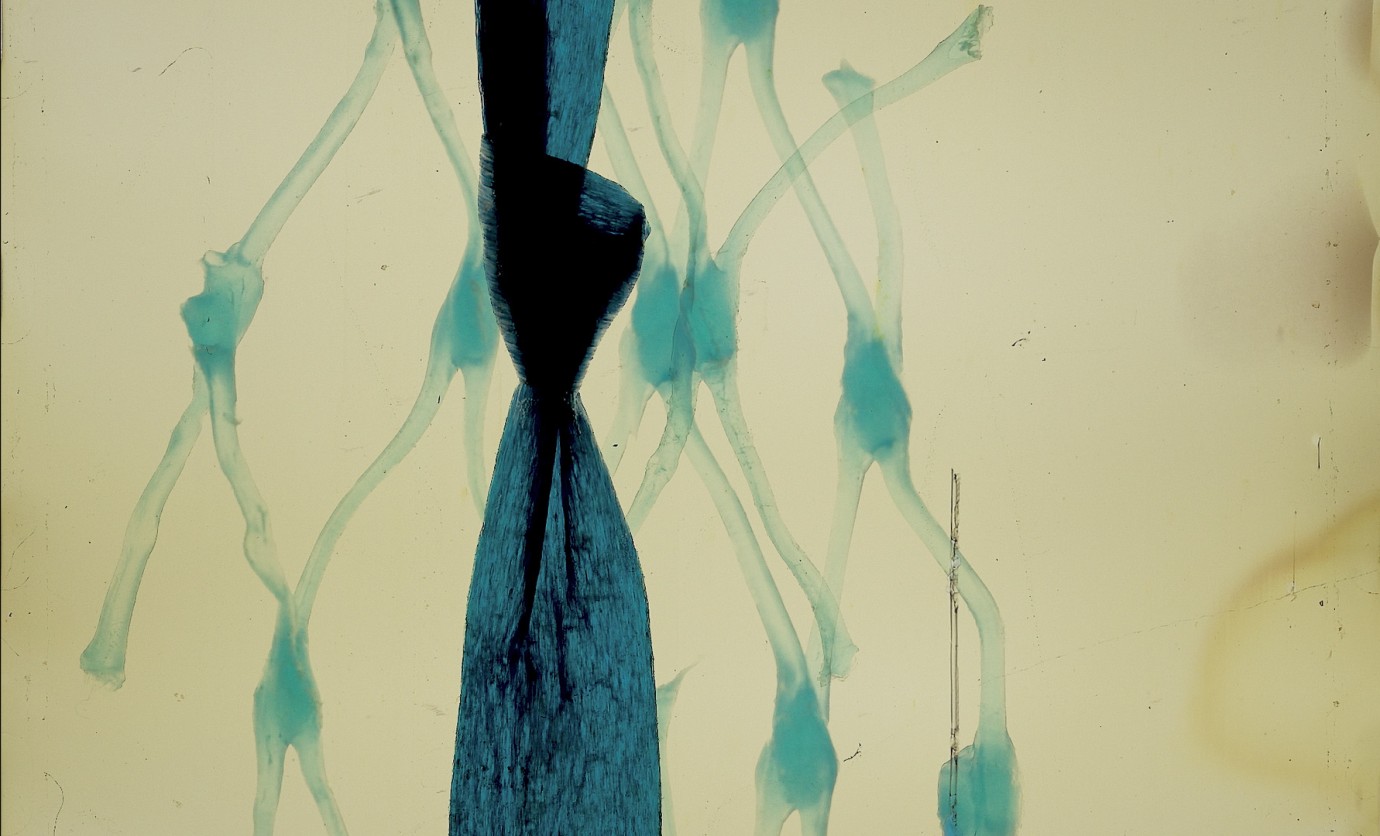A primeira longa-metragem do realizador Patrick Muroni, Ardente·x·s, selecionada para o Visions du Réel, em Nyon, é agora apresentada na 26ª edição do Queer Lisboa, entre os 8 filmes na competição de documentários. O cineasta suíço filma na cidade onde estudou, Lausanne, e acompanha uma parte do trajeto das OIL Productions, produtora de filmes pornográficos […]