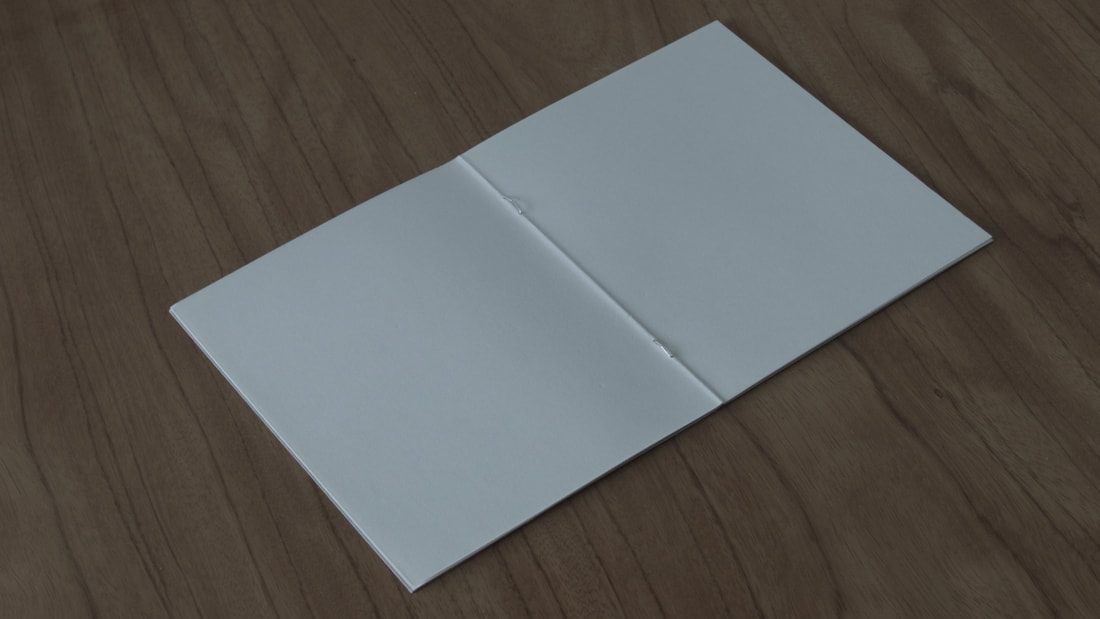Há recantos em Portugal que parecem ter sido esquecidos pelo tempo. Aldeias e vilas que persistem, erguidas como monumentos de uma certa maneira de viver, já praticamente extinta, como Manuela Serra teria previsto no fatídico plano final do seu O Movimento das Coisas. Cerca de 40 anos depois, estes mesmos lugares tornaram-se millieux onde diferentes […]